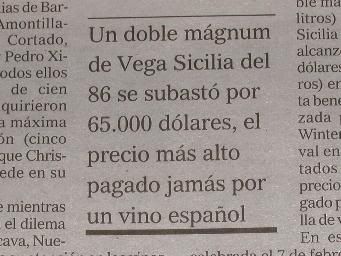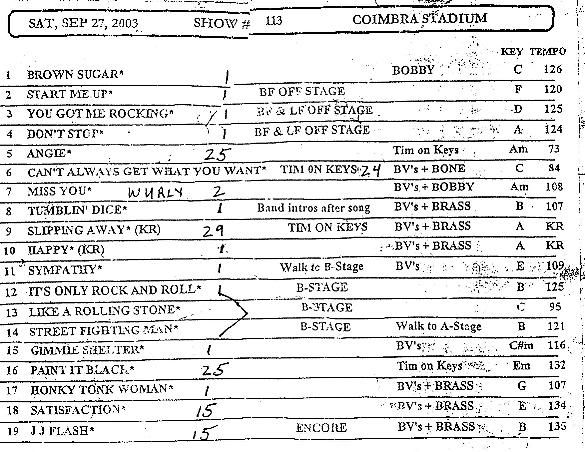A propósito desta rapaziada que emborca vinho fino, fuma charuto, coça os tomates entre um garfo de iconografia russa medieval e outro de Tom Waits e conversa aos gritos sobre gajas entre dois buchos recheados, lembrei-me dum poste que se calhar nem tem nada a ver mas não interessa. Se há coisa que mais se aproxima de um “Cinema Masculino”, com M grande, sem desprimor para os éfes, no sentido filosófico, histórico e telúrico de um Hemingway, por exemplo, será sem dúvida o Western, universo de homens por excelência. Tirando algumas excepções, como o Johny Guitar, de Nicholas Ray, ou A Desaparecida, de John Ford, as mulheres não passam de adereços que guincham, ou, quanto muito, de esposas ou noivas que, chorosas e resignadas, ficam para trás a cuidar do rancho enquanto o homem vai viver o filme. Ou então são putas.
O universo John Wayne é macho. Como macho é o universo de Jack London ou de Herman Melville no Moby Dick, obra prima sobre muitas coisas em torno de obsessões quiméricas eminentemente masculinas, como a vingança sangrenta e impiedosa (nas mulheres convencionou-se que é mais subtil, prato frio e cerebral) ou a supremacia, num cenário obrigatoriamente masculino, como era o dos baleeiros no século XIX, que resultou noutra pérola do cinema com a setinha para baixo: A obra de John Huston com o mesmo nome. Podia referir outras correntes, os filmes de guerra, por exemplo, ou quase todos os filmes embarcadiços, mas os casos anteriores creio que reflectem muito melhor a tal masculinidade existencial, a condição de se ser Homem. De se ser Homem só perante as forças adversas deste mundo e do outro, perante as suas ambições, deveres, dilemas terríveis, imperativos éticos, solenes, políticos, o destino de povos, desígnios maiores que o quotidiano. Aqui, as mulheres ou ficam a varrer a casa ou simplesmente não existem, nestes exemplos cinematográficos e literários que creio que exploram com mais intencionalidade, até, esse tipo de reflexão e contexto “homocêntrico”.
Mas tenho para mim que há dois, dois filmes seminais, que reflectem esta questão com uma profundidade e uma dimensão estética verdadeiramente ímpares e arrebatadores. Refiro-me a “Lawrence da Arábia”, de David Lean, e a “Dersu Uzala”, de Akira Kurosawa. Em ambos, mais no primeiro, se destaca numa primeira abordagem a quase completa inexistência de mulheres. Na história do major inglês T. E. Lawrence (Thomas Edward) filmada por Lean não há qualquer vestígio feminino marcante. Penso que a única vez que se vislumbram mulheres ao longo de todo o filme é, ao longe, um ruidoso grupo de beduínas vestidas de preto dos pés até aos pés e empoleirado nas encostas de um desfiladeiro árido, muito ao longe enquanto um exército de homens domina um majestoso plano aberto penetrando no deserto, ao encontro da sua missão de homens/guerreiros maiores que a vida. Com Lawrence à cabeça. A história - verídica mas nebulosa, deste aventureiro e oficial do exército britânico no Médio Oriente, figura controversa mas fascinante que viveu entre 1888 e 1935 e que, antes de ingressar na vida militar, fez arqueologia na Síria e no Egipto e se misturou com os locais, aprendeu a língua, os usos e os costumes dos árabes, lutou ao seu lado contra os turcos e o império Otomano, negociando o apoio das forças expedicionárias inglesas na região, nomeadamente financeiro – de Lawrence, como a do capitão Ahab, também é uma história de vingança, de um ódio mortal, sangrento e víril. A Moby Dick de Lawrence são os turcos (como se revela, por exemplo, na insana e cruel carga sobre uma coluna de tropas turcas destroçadas, indefesas e em fuga). Mas é também uma história de glória e de um homem só perante o seu destino. Ao lado das tribos do deserto que derrotaram os turcos em Tafila em 1918 e (re)tomaram Damasco, e integrando a delegação árabe à Conferência de Paz posterior, Lawrence inscreveu o seu nome na História, sendo uma das peças-chave no novo “desenho” político do Médio Oriente que dali emergiu e ainda hoje dá dores de cabeça a toda a gente. Grande parte da sua vida no deserto, de resto, está contada no seu livro “Os sete pilares da sabedoria”.
O superlativo filme de David Lean (mais ninguém filmou o deserto daquela maneira, nem mais ninguém o compôs tão bem como Maurice Jarre, numa banda sonora arrebatadora), ao contrário do de Kurosawa - que é uma história “assexuada” de homens perante a solidão, também perante a imensidão mas sobretudo perante a amizade - é um filme masculino, mas ao mesmo tempo de uma sensualidade extraordinária, explorando a dúbia e inconfessada condição sexual “desviante” de Lawrence, alegadamente homossexual e alegadamente violado por um oficial turco. Nada disto se vê mas tudo isto se sabe, ou adivinha, neste filme matreiro e subtil, escondido por detrás da sua grandiosidade, como a areia movediça dissimulada na vastidão desértica que engole um dos dois jovens criados pessoais de Lawrence, idealista, sim, mas também guerreiro impiedoso e calculista, mas destroçado pela morte do dilecto servidor beduíno. O filme de Lean tem, então a particularidade de ser masculino e quase erótico, com Peter O’Tolle compondo um extraordinário e dramático narciso egocêntrico e sensual, como são de uma sensualidade fantástica as cenas de Lawrence vestido com as longas túnicas brancas árabes, andando pelas lânguidas dunas do deserto tórrido como se desfilasse numa passagem de modelos e como se mil espelhos o contemplassem dizendo: és belo, és desejável, és poderoso.
Já “Dersu Uzala” (apresentado em português como “A águia da estepe”), também sendo um filme de grandes paisagens (decorre essencialmente nas frias planícies da Sibéria) é um objecto completamente diferente, constituindo sobretudo um comovente e poético (para mim o mais poético, intimista e despretensioso dos filmes de Kurosawa) ensaio sobre a dignidade humana, com base nos fortes e improváveis laços que se geram e acabam por unir para a vida dois homens oriundos de dois mundos completamente diferentes: um topógrafo militar moscovita (ou talvez de São Petesburgo, não me recordo exactamente), urbano e culto, e um simpático, experiente e rude caçador siberiano que acaba por lhe servir de guia naquela região inóspita. Este filme, de como o respeito mútuo pode quebrar barreiras culturais e outras, corresponde à fase de “exílio” de Kurosawa (após o fracasso no Japão do também superlativo “Dodesukaden”, que terá levado inclusive Kurosawa a tentar o suicídio em 1971) tendo sido rodado e produzido na ex-União Soviética, que acolheu e apoiou os projectos do cineasta, acabando por vencer em 1975 o Óscar para melhor filme estrangeiro. De uma dimensão quase diria ecologista (um crítico francês chamou-lhe mesmo um «poema ecológico»), inclusive na reflexão sobre o homem e o seu papel, o seu lugar, na grandeza natural das coisas, “Dersu Uzala” é baseado no livro de memórias do capitão Arseniev, o topógrafo que em 1902 teve como missão mapear a infinitude siberiana e tropeçou numa criatura estranha chamada Dersu Uzala, que aprendeu a amar e a respeitar, como em relação à Sibéria.
Ps: Este último foi, de resto, o filme que projectou Kurosawa, justamente, para o estrelato mundial. Depois de Dersu Uzala, e para felicidade dos cinéfilos, o realizador fez o que quis, com o apoio e a admiração conquistados em Hollywood e entre gente como Coppola ou George Lucas, que ficaram incondicionais da obra do japonês, tendo sido determinantes (financiando) na concretização do seguinte projecto de Kurosawa: O triunfal “Kagemusha” (“A sombra do Guerreiro”), obra-prima que venceu em 1980 a Palma de Ouro de Cannes.
Seria injusto não lembrar aqui que “Lawrence da Arábia”, uma das mais caras e grandiosas produções cinematográficas até à data (15 milhões de dólares era uma pipa de massa em 1962), mereceu em 1963 os Óscares de Melhor Filme, Melhor Realizador, melhor Banda Sonora, Fotografia, Direcção de Arte, Melhor Som e Melhor Montagem. Teve também nomeações para Melhor Actor e melhor Actor Secundário.